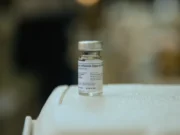Jack London escreveu um romance fascinante, intitulado Martin Eden, onde o protagonista Martin deseja muito se tornar um escritor reconhecido. Após muito trabalho duro, ele atinge o sucesso. Nessa condição, eis o que passa a vivenciar no seu dia-a-dia: as pessoas o cumprimentam com vivacidade, o juiz da cidade convida-o para jantar em sua casa, sua namorada se declara loucamente com palavras de amor absoluto.
Entretanto, antes do sucesso a condição de Martin era outra: desempregado, vivia maus bocados na pobreza, não recebia cumprimentos dos seus concidadãos, o juiz quando o via desviava o olhar, e sua namorada era apática na relação. O que fez mudar os comportamentos em seu redor? Ora, aquilo que os hegelianos e lacanianos entendem bem, o ‘agalma’ universal: não o objeto desejado pelo próprio sujeito, mas o objeto universalizado por todos e imposto ao sujeito, no sentido, grosso modo, de uma condição existencial fictícia imputada pelo coletivo.
Ou seja, ele percebe claramente que os olhares que o atingem não o veem subjetivamente, como singularidade sui generis, como gênio que era antes mesmo do sucesso. Nessa condição, perde pouco a pouco a noção de seu próprio agalma, de seu próprio valor mais caro, que sempre o acompanhou e que o manteve vivo; se sente pouco a pouco se exteriorizando de si mesmo. Por fim, nesse processo transubstancial, que culmina na alienação de sua própria humanidade, ele interrompe a sua vida. Não conseguiu suportar ser apanhado por um mecanismo impessoal proveniente do imaginário coletivo, que o obrigou a ser um simulacro dos sonhos dos outros.
Nessa mesma linha de reflexão, acho muito interessante o comportamento de Marilyn Monroe retratado no filme Sete dias com Merilyn Monroe (baseado nos livros de Colin Clark). O filme mostra uma Marilyn ora feliz e extravagante, ora melancólica e recolhida em seus aposentos: duas faces que a atingem repetidas vezes e num curto espaço de tempo. A primeira Marilyn (“feliz”) é a celebridade, a modelo norte-americana, a atriz e cantora transmitida pela cultura de massa, o símbolo sexual aos olhos do mundo, a personificação do glamour hollywoodiano. A segunda Marilyn (melancólica) é Norma Jean Mortense (seu verdadeiro nome), que é acometida por sentimentos oriundos de traumas de uma infância difícil – talvez em função da relação conturbada com sua mãe solteira e instável, talvez em função dos anos em que viveu em um orfanato. Mas o que mais melancoliza seu espírito é o confronto que vivencia entre as duas Merilyn, pois não se sente completa em nenhuma delas. É justamente no intervalo conflituoso entre uma existência real/dura e outra fictícia/glamorosa, que Marilyn mergulha em uma tristeza profunda. Contudo, é também justamente nesse intervalo, que ela pode reflexivamente se encontrar consigo mesma, com sua forma mais autêntica.
Ambas as histórias contam algo sobre a nossa própria condição existencial no mundo? É difícil responder categoricamente. O certo é que algumas vezes nos encontramos diante de circunstâncias semelhantes. Compartilho com o leitor uma que me ocorreu há alguns dias: estava tocando e cantando “Chega de Saudade” do poeta Vinicius de Moraes (além de professor de filosofia, sou também músico) em um ambiente público muito agradável. Após findar a música, fui aplaudido por uns poucos que a apreciavam. Nesse meio tempo, recebi de um sujeito muito educado um bilhetinho com o seguinte: “tocar Brilho de Facas, de Zé Ramalho”. Imediatamente me desculpei dizendo que não sabia tocar tal música, mas que a achava muito linda, o suficiente para incluí-la no meu repertório. Porém, o sujeito ficou me olhando um tanto pasmo, sem saber o que dizer, até que ele se aproximou e sussurrou-me as seguintes palavras: “você não vai tocar essa música? Foram os americanos, sentados ali comigo naquela mesa – sou amigo deles –… foram eles que pediram essa música!”. De forma também educada, repeti que não seria possível, pois não sabia as harmonias e nem lembrava muito bem da música, mas que tocaria outra no lugar. Ele voltou a dizer: “mas foram os americanos!?”.
Não sou antiamericano, nem sofro de xenofobismo de qualquer tipo, mas o comportamento do sujeito me chamou a atenção. Presenciei comportamentos de natureza semelhante em outras ocasiões. Parece que, por serem provenientes de um país estrangeiro e de poder econômico muito elevado, algumas pessoas têm a necessidade de trata-los como se fossem oriundos do Monte Olimpo, como seres que transcendem a mera condição humana. Esse comportamento apoteótico nos remete a essa condição existencial glamorosa sobre a qual estamos tratando aqui, condição que nos é imposta pelos outros, que impomos a nós mesmos e que acabamos por impor aos outros também, numa atitude que perpetua existências fictícias, e que inscrevem nossa condição em um todo universal imaginário e irreal. E pensemos, ‘até que ponto (?)’!