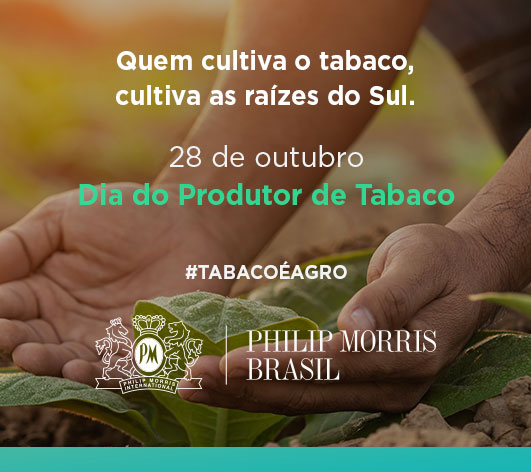Há um episódio muito interessante e revelador anotado pelo professor Jorge Cunha em seu livro “Os colonos alemães e a fumicultura” (Fisc, 1991). Em nota de rodapé, lê-se o seguinte: “Com a valorização das terras em torno da colônia de Santa Cruz [RS], os matos e ervais pertencentes aos índios da aldeia de São Nicolau de Rio Pardo, com cerca de duas mil braças quadradas (968 hectares), são considerados devolutos e loteados, passando a fazer parte da colônia de Monte Alverne”. Isso se passa em torno de 1859, dez anos após a introdução da primeira leva de imigrantes germânicos em Linha Santa Cruz. No avanço da colonização, as áreas de extrativismo pertencentes a indígenas da região são usurpadas. A elite econômica e política impõe os seus interesses e concepções de “desenvolvimento regional”.
Outro fato da maior significância – e que também costuma ser lido como um “mero detalhe” – diz respeito à existência de negros aquilombados na região, que, por aqueles tempos, estava sendo ocupada por famílias alemãs. Cunha escreve, na sua supracitada obra, que o então diretor da colônia de Santa Cruz, Carlos Schwerin, efetuando medidas na serra ao norte de Linha Ferraz e São João, comunica, em 1863, ao inspetor geral das colônias, que ele havia encontrado vestígios de que “existem por dentro destes matos um quilombo numeroso, cuja destruição é tanto necessário, [já] que a colonização de Santa Cruz [com imigrantes europeus] há de se estender por este lado até chegar em Cima da Serra”. Mais uma vez os grupos que “teimam” em sobreviver autonomamente, longe da inaudita exploração coisificante, mantendo uma cultura própria, não-branca, são perseguidos como um câncer a ser extirpado, pois “atravancam a civilização”…
A conclusão do professor, fazendo uma citação do relatório do então presidente da província, Jeronymo Francisco Coelho, de 15 de dezembro de 1856, é de que “fica claro que a colonização com imigrantes brancos e europeus significa o desejo subjacente de modernização calcada sobre o abandono e a destruição dos elementos característicos de uma forma de produção que, dados os ‘compromissos de dever e de honra nacional, os tratados, os sentimentos de humanidade, e a reprovação geral dos povos cultos’, deve desaparecer para sempre”. Se o preço é próprio extermínio dos “povos não-cultos”, paga-se sem maiores remorsos – tudo em nome do progresso!
Incrivelmente, ideias tão arrogantes e discriminatórias, como as manifestadas no século retrasado por esse, então, presidente da província sul-rio-grandense, prosperaram e continuam, de uma maneira ou de outra, explícita ou dissimuladamente, reproduzindo-se até hoje. A ignorância ou o menosprezo ou a total omissão de acontecimentos – como o da expropriação dos ervais dos índios e perseguição a quilombos em meio às, outrora, densas florestas do Vale do Rio Pardo – quando se conta, de diversas formas, a história santa-cruzense, é uma pequena amostra do descaso.
Penso que já está até passando da hora de levantarmos o alvo tapete cerimonial forjado em hinos, monumentos, livros e outros meios mi(s)tificadores, superando, assim, como diz o historiador Mário Maestri, “as narrativas vitimárias e prometéicas das leituras étnico-apologéticas da colonização”, e começar a vasculhar com mais afinco o que está soterrado por décadas de preconceitos bem pouco admitidos, construindo uma perspectiva mais ampla, inter e pluriticultural, na concepção do que foi e é a formação da comunidade local e regional.
Iuri J. Azeredo, professor ([email protected])