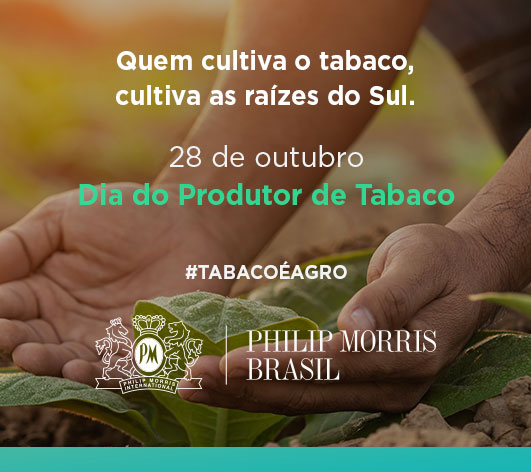Ninguém deveria ler este texto. Assim como não deveria ser escrito. Há momentos mágicos na vida, que se desfazem como a bruma da madrugada, ao primeiro raio de luz. Bruma aparentemente dissipada, mas que, muito além das cortinas que escondem cenários, ficou guardada entre os segredos misteriosos dos interiores.
De que tom estará imantado o uivo do lobo, nas noites de lua, quando seu corpo se entesa sobre as montanhas? O que move o elefante, na sua caminhada trágica para a morte, quando esta se anuncia silenciosa? Donde a luz agudizada em tons de fim de tarde, que voa por sobre as asas das andorinhas nos dias quentes de verão? De onde a melancolia, misto de saudade e perda, que nos assoma sentida no silêncio pessoal de cada humano?
Há momentos que quanto mais repetidos, em sua singularidade e identidade de cada ser, mais se avolumam em recônditas entranhas. Passam a assumir contornos acrescidos do que poderia ter sido, do que teria mudado em nossas vidas.
Nestes dias secos, em que não é o sol que nos caustica com seu calor, mas a terra que nos resseca, auguramos pela chuva. Sentimos a terra esturricada; terra que invade nossas intimidades em sintonia fina com a conivência dos nossos, só nossos, guardados.
Intuitivamente sabemos que a chuva voltará, porque antes, em secas semelhantes, a água retornou. Estaremos então, parados, com o rosto rente a uma janela, olhando a chuva. Chuva, esperançosamente calma, estalando no chão, que se abrirá como um ventre fértil, ajustando cada greta para que, gota por gota, estas se entranhem ávidas terra adentro.
O vidro, junto ao nosso rosto, sentirá a bruma de nosso corpo, embaciando sua limpidez. Bruma alimentada pelo que temos de próprio, de identificador de nossa existência. Junto com a chuva, nossos olhos vão verter as águas da “misterioridade” contida, não expressa, mas presente, insistentemente presente. Olhos de chuva prenhes de verdades não reveladas nem consentidas e, jamais descritas.
*Ambientalista